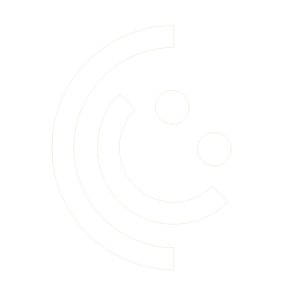Neste seu segundo romance, Marana Borges nos apresenta uma história onde os objetos e a arquitetura - desta vez de um casarão do século XIX - voltam a recobrar vida. Partindo de um episódio pouco explorado da História do Brasil, a autora retrata uma família no epicentro da crise econômica que assolou as fazendas de café no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.
Com o lirismo e a fina ironia característicos de sua prosa, a autora constrói personagens de grande alcance psicológico. Pelos olhos de Aparecida – que sonha em ser árvore - topamos com essa casa “ocupada mais por coisas mortas do que por gente”. O pai, figura quixotesca e inicialmente periférica da trama, é o único baluarte da razão. Ele passa o tempo a escrever cartas em defesa da recém falida monarquia — que nenhum jornal aceita publicar.
A atravessar todos os cômodos, está ela, a noite, e adentramos nela como fazem as personagens. “Dentro de noites, há noite”. Nessa casa que é uma “sucessão de quadrados abertos à força”, a narrativa rompe qualquer juízo bipolar. Porque é também de dentro da razão, e da simetria das janelas, que irrompe a loucura. “O sono da razão produz monstros”, como imortalizou Goya em sua famosa pintura.
A palavra torna-se uma marreta a deitar paredes. Não há escape: para trás, a violência dissimulada em glória; para frente, um progresso que caminha em passos falsos. Com o avanço das obras que tomam o casarão, o ritmo da narrativa acelera e o leitor é levado para “dentro de outros quadrados, de quartos, de livros, de quadros, da tarde que desanda e cai” e o romance torna-se tão claustrofóbico quanto as famosas prisões imaginárias de Piranesi. Piranesi, tão sabiamente evocado no livro, já alertava para a infeliz vizinhança entre a megalomania neoclássica de seu tempo e o delírio. E aqui, não estamos longe disso.